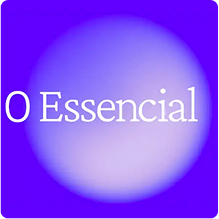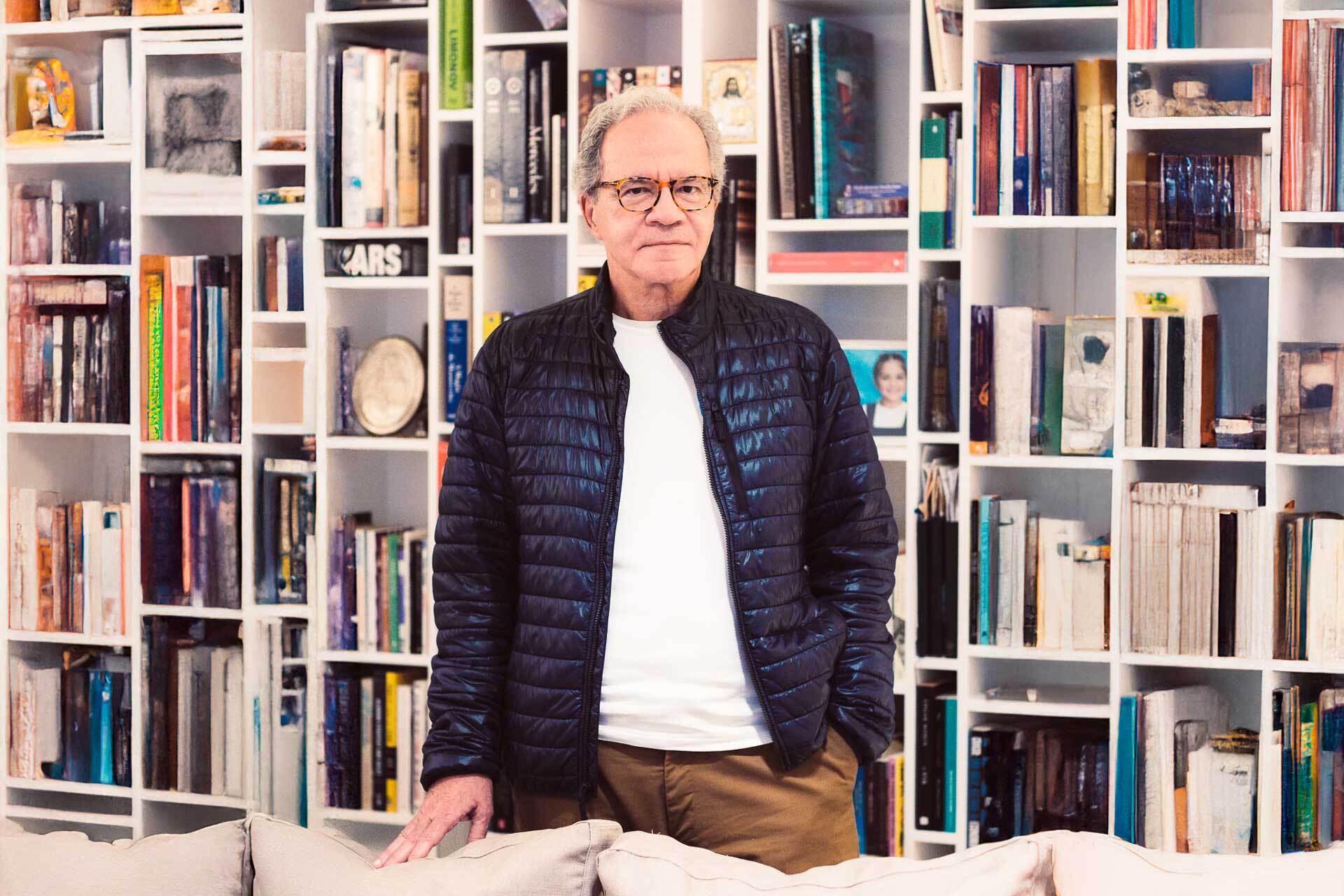Essa brutal expansão foi incentivada por uma duradoura política de subsídios que tornou a instalação de painéis solares um ótimo negócio para quem pode pagar por eles. Ao apelo econômico, somou-se a ideia sedutora de depender menos do sistema integrado de energia. O resultado foi a receita perfeita para um fenômeno comercial que estruturou uma cadeia econômica bilionária cujo nome técnico é micro e minigeração distribuída, a MMGD.
Nem toda MMGD é feita de painéis solares. Mas quase toda: 97% da capacidade instalada vêm da energia solar fotovoltaica, de forma que esta reportagem vai tratar MMGD e painéis solares como sinônimos – não incluindo aqui as grandes usinas solares, que não são classificadas como geração distribuída, mas sim geração centralizada.
Hoje, as milhões de plaquinhas espalhadas pelo Brasil constituem 18,1% da capacidade instalada do país. São 44,6 GW, o equivalente a três usinas de Itaipu. Serão quatro “Itaipus” e meia até 2029, segundo projeção do Operador Nacional do Sistema (ONS).
A Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) calcula que foram empregados R$ 180 bilhões para atingir o estágio atual. “Não tem dinheiro do governo, foram os próprios prosumidores que investiram seus recursos, veio do bolso deles”, afirma Carlos Evangelista, presidente da entidade. No vocabulário da associação, o neologismo que funde “consumidor” e “produtor” define quem aderiu à MMGD.
Esse sucesso todo também cobra seu preço: primeiro porque os subsídios são compensados na conta dos consumidores que não têm painéis solares instalados, o que alimenta debates intensos entre os players do setor elétrico. Segundo porque os painéis injetam quantidades colossais de energia no sistema e não há muito o que o ONS possa fazer a respeito – para manter a estabilidade, ele opta por “desligar” usinas de geração centralizadas Brasil afora, ameaçando a sustentabilidade financeira de parques eólicos e solares.
A multiplicação dos painéis solares descambou numa enorme batalha política e econômica entre técnicos, empresas, setores e lobistas do setor elétrico brasileiro. O debate sobre a MMGD pode parecer hermético e distante para alguns, mas a resolução dessa briga será definidora para o futuro da segurança energética nacional.
Os dias de sol da MMGD
A política de incentivos que impulsionou os painéis solares começou em 2012, com a Resolução 482 da Aneel. Foi ela que criou o sistema de compensação de energia elétrica, uma espécie de balança de créditos e débitos de eletricidade. Funciona assim: o consumidor que gera mais energia do que consome durante o dia injeta o excedente na rede e, em troca, recebe créditos em quilowatt-hora para abater da conta quando o sol se põe.
É como se o relógio do medidor “girasse ao contrário” — e a distribuidora é obrigada a aceitar essa energia sem cobrar pelo uso da infraestrutura de fios e transformadores. Esse componente da tarifa é a TUSD — Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, a “tarifa do fio”, que remunera a rede pelo serviço de levar a energia até o consumidor. A isenção da tarifa do fio para quem gera a própria energia foi o coração do incentivo e transformou o sistema de compensação num investimento de retorno rápido.
Para os defensores da MMGD, a isenção é questão de justiça. “A geração distribuída não usa as redes de transmissão, os grandes linhões. Eu estou produzindo aqui e só uso a rede de distribuição do meu quarteirão e dos quarteirões subsequentes. Então por que eu tenho que pagar pela rede de distribuição?”, questiona Carlos Evangelista, da ABGD.
Em 2015, a Resolução 687 ampliou o alcance do programa, permitindo a grupos de consumidores a organização de consórcios ou cooperativas capazes de instalar sistemas de geração remota, o que fez o mercado explodir – inclusive, alimentado por abusos.
Empresas começaram a “empacotar” projetos de energia solar remota como se fossem produtos de investimento ou assinatura, vendendo energia subsidiada – o que é não se enquadra no propósito inicial da MMGD, pensada para autoconsumo, não para comércio de energia. Elas instalam uma usina solar numa cidade do interior, por exemplo, criam uma cooperativa e vendem assinaturas ou participações para consumidores urbanos.
Criam assim, uma distorção de mercado. Afinal, os custos são transferidos para quem não tem painel solar, já que o subsídio é bancado coletivamente na conta de luz. O motorista de ônibus paga a tarifa para que o “empresário do painel solar” tenha margens de lucro mais gordas. “Se alguém está pagando menos, vai sobrar para alguém pagar mais”, resume o Amilcar Guerreiro, executivo do setor elétrico e ex-diretor da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
Em 2022, uma nova regulamentação foi aprovada para tentar minimizar as distorções. Chamada de Marco Legal da Geração Distribuída, a lei 14.300 criou um regime de transição para reduzir, aos poucos, os benefícios da GD. Mas bem aos poucos mesmo: quem instalou paineis solares até o começo de 2023 tem o direito de usar a rede sem pagar pelo fio até 2045. Sistemas instalados depois disso vão pagando uma tarifa do fio que cresce aos poucos, chegando aos 100% até 2029.
Desde o marco legal, no entanto, os valores anuais dos subsídios para os painéis solares disparam, refletindo a corrida para aproveitar os benefícios. Em 2022, os subsídios para a geração distribuída totalizaram R$ 2,8 bilhões. Em 2023, chegaram a R$ 7,1 bilhões. O valor cresceu para R$ 11,6 bilhões em 2024. Neste 2025, até outubro, já são R$ 10,2 bilhões, um terço do total de subsídios compensados na tarifa dos consumidores, segundo o subsidiômetro da Aneel.
O tempo fechou para o ONS
Enquanto o número de telhados com painéis solares crescia exponencialmente, o ONS começou a enfrentar um problema curioso: tinha energia demais sendo gerada em determinados momentos do dia. Pode parecer estranho à primeira vista, mas energia sobrando é um risco que um sistema integrado e nacional, como o nosso, não pode correr.
O pico de geração solar acontece entre as dez da manhã e as duas da tarde — justamente quando o consumo nacional costuma cair. O resultado é que, em dias de céu limpo, há momentos em que sobra energia, e o ONS simplesmente não tem como controlar essa oferta.
Diferente das grandes usinas hidrelétricas, térmicas, eólicas e mesmo as solares, cuja produção o operador pode ajustar a qualquer momento, a energia gerada pelos telhados e pequenas fazendas solares não passa pelos centros de despacho. Cada sistema injeta na rede o que gera — sem comando, sem supervisão e sem possibilidade de desligamento à distância. São milhões de “miniusinas” produzindo ao mesmo tempo, sem coordenação central.
E há outro limite físico: não existe “banco” de energia. A eletricidade precisa ser consumida no exato instante em que é produzida — o sistema elétrico funciona em equilíbrio permanente entre oferta e demanda. Se entra mais energia do que a rede consegue absorver, o risco de colapso aumenta. Se falta, o país pode ter apagões.
Essa fragilidade ficou evidente no último Dia dos Pais. Com 40% da eletricidade nacional vindo do sol na hora do almoço, o ONS precisou cortar 17,5 gigawatts de geração de outras fontes para evitar uma pane, o que gerou o desligamento de algumas usinas hidrelétricas.
Os cortes de geração, cada vez mais frequentes, criam um novo tipo de tensão. De um lado, as empresas de geração centralizada (GC) reclamam de perdas financeiras. Também se aproveitando de subsídios – o subsidiômetro da Aneel calcula outros R$ 10 bilhões em 2025, até outubro – , elas fizeram investimentos bilionários nos últimos anos para construir parques solares e eólicos que agora passam boa parte do tempo sem gerar energia – como no caso da inauguração do parque eólico Pedra Pintada, da Enel. Trata-se do curtailment, palavrinha que tem aterrorizado parte do setor elétrico brasileiro nos últimos meses.
O presidente da ABGD, Carlos Evangelista, vê o fenômeno de outra forma. Para ele, trata-se de uma disputa de mercado travestida de problema técnico. “Os principais opositores da geração distribuída hoje são as distribuidoras e os grandes geradores. São multinacionais para quem a GD virou um problema por não estarmos comprando energia deles”, pontua. “Eles deveriam ter colocado esse risco no business plan“.
Em meio a esse impasse, a Aneel tenta encontrar novos mecanismos para dar estabilidade ao sistema. Um deles é o leilão de capacidade, um modelo que remunera usinas capazes de garantir energia firme nos momentos críticos — inclusive megabaterias, hidrelétricas reversíveis e termelétricas de resposta rápida. É um passo tímido, mas representa uma mudança de paradigma: a energia passa a ser comprada não apenas pelo megawatt-hora, mas pela confiabilidade que oferece ao sistema. O que importa é a estabilidade.
Outra proposta em estudo é ampliar o alcance do curtailment, permitindo que pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e outros geradores centralizados de pequeno porte também possam ser cortados em momentos de excesso — uma forma de repartir o peso do ajuste e dar mais flexibilidade operacional ao ONS.
Dá para incluir os painéis solares no corte? “Até dá, mas seria necessário ter centros de controle nas distribuidoras para que elas fossem capazes de executar os cortes. Seria mais um custo que provavelmente seria pago pelo consumidor”, explica Amilcar Guerreiro.
Paulo Pedrosa, presidente da Abrace — associação que representa as grandes indústrias consumidoras de energia —, enxerga o problema em outra escala. “O setor elétrico está capturado e o mercado de energia está pulverizado. Todo mundo vai no show levando um saco de farinha pra pagar meia entrada.” Para ele, a crise da geração distribuída é apenas o exemplo mais visível de um modelo em que cada agente busca o próprio privilégio — e a conta, no fim, sobra para o consumidor.