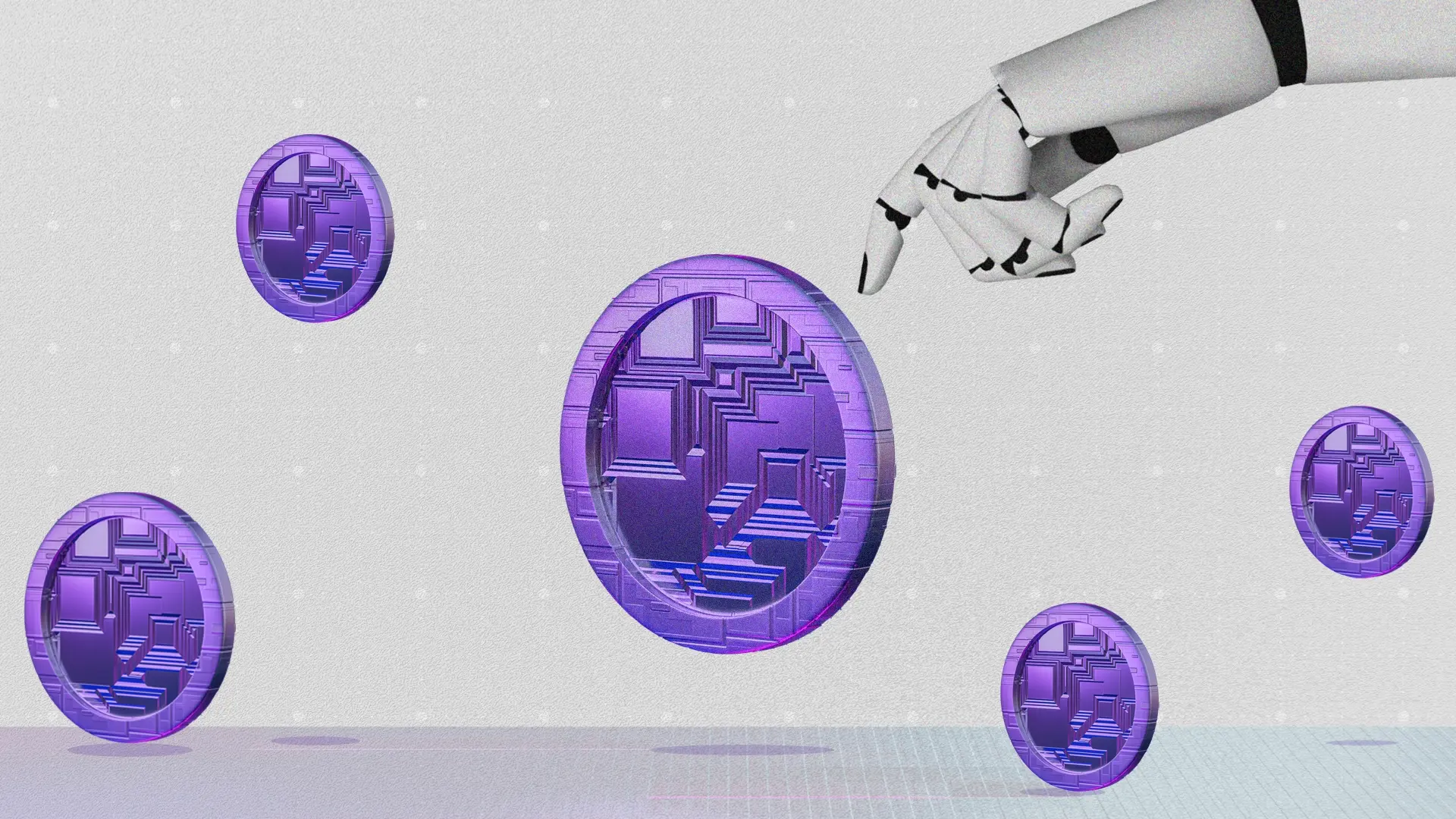No meio das conversas, surgiu o nome: Certificado de Operações Estruturadas, o COE. Rafael não tinha ideia do que seria, mas o assessor garantiu que era uma ótima alternativa para alguém que queria a segurança da renda fixa, mas poderia de algum modo ganhar um pouco mais com a ajuda da renda variável. “Tinha acabado de começar, me ofereceram algumas coisas, achei confuso, e me vieram com essa.”
Foi uma situação parecida com Leandro (nome fictício). Ele também foi logo apresentado aos COEs pelo seu assessor, com o mesmo argumento. “Toda vez que eu peço uma indicação de investimento, ele tenta me empurrar esse negócio”, diz.
A experiência dos dois não são casos isolados. Esses produtos são colocados na mesa dos investidores com a sua estrutura confusa e com a promessa de juntar duas coisas em uma só: a segurança de ativos de baixo risco com os ganhos vantajosos de ativos mais arriscados.
A verdade é que tem mais coisas – algumas bem ruins – por trás.
O COE é um produto emitido por um banco e distribuído por corretoras e plataformas de investimento. Ele funciona como uma casca. Dentro dele, cabe de tudo: papéis de renda fixa, commodities, moedas, ações (do Brasil e de fora) e, em especial, os derivativos – contratos que tentam projetar o preço de outro ativo no futuro, como dólar, taxa de juros ou commodities. São instrumentos para que investidores se defendam de oscilações de preço ou tentem alavancar seu desempenho, sem ter de negociar o ativo principal.
É aí que está o problema.
Hoje, você consegue investir com a segurança da renda fixa e os potenciais retornos maiores de ativos arriscados por conta própria. Dá para fazer isso via compra direta de títulos de dívida do governo ou de bancos e empresas, ou por meio da compra de ações e outros ativos de renda variável. Para aqueles que preferem delegar essa tarefa, há também os fundos de investimentos, em que um gestor profissional é quem decide para onde vão os recursos. E tem ainda até ETFs que misturam renda fixa e variável.
Em todos esses casos, você consegue entender claramente o quanto sai do seu bolso para pagar os custos e os impostos. E quem investe precisa sempre ter em mente que esses dois pontos são peça-chave para o retorno. Se ambos forem altos, os ganhos serão corroídos.
É por isso que as críticas ao COE são tão grandes. A salada de frutas que fica dentro deles pode tornar muito difícil prever o rendimento no futuro – e eventuais perdas. O que certamente tem dentro de todo COE são pequenas taxas que beneficiam as corretoras (e os assessores de investimento). E essas taxas juntas podem esmagar quem compra.
Os COEs mais comuns são os “de capital protegido”. Eles garantem que você receberá de volta, no mínimo, o que foi investido. Parece uma ideia ótima. Afinal, se tudo der errado, o dinheiro retorna.
Acontece que isso é feito sem qualquer correção pela inflação. Na prática, você perdeu poder de compra. Para dar uma ideia: a inflação acumulada desde 2019 é de 40%. Se você colocou R$ 10 mil num COE em 2019 e recebeu de volta R$ 10 mil em 2025, perdeu. Para que o montante garantisse o mesmo poder de compra que R$ 10 mil tinham em 2019, deveriam ter voltado R$ 14 mil para o seu bolso.
Mas não acaba por aí. Os COEs têm um prazo de vencimento. Se você quiser resgatar os recursos antes, provavelmente terá o chamado deságio – quando o produto é vendido por um preço bem abaixo do valor que você pagou. Afinal, o produto não tem liquidez: se você está querendo vender logo e não há muitos compradores no mercado, quem adquirir o produto vai exigir um preço menor. E esses títulos costumam vencer entre 3 a 5 anos. Ou seja: o dinheiro fica preso.
Como funciona?
Vamos a um exemplo real.
O COE IPCA Alavancado, distribuído por uma grande plataforma, teve como data de início em março de 2023, com aplicação mínima de R$ 5 mil e duração de dois anos. O distribuidor informa que haveria chance de negociação no mercado secundário, para venda a outra pessoa, a partir de três meses. Mas o próprio Documento de Informações Essenciais (DIE) do COE informa que a instituição faria os melhores esforços para encontrar um interessado, já que não há liquidez para o produto.
A remuneração em um COE é chamada de payoff, uma parcela paga ao investidor a partir do desempenho de um índice de referência. A forma de realizar o payoff precisa estar claramente descrita na documentação do COE, segundo as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No nosso caso, como em boa parte desses produtos, a remuneração é calculada por meio de uma participação do investidor na variação do índice. Essa participação é o multiplicador aplicado a esse indicador de referência.
Segundo os documentos do COE, a participação do investidor na alta do IPCA era, no mínimo, de 1,70 vez, o que significa dizer um pouco menos do que o dobro da variação positiva do índice. Em termos mais simples: o investidor receberia 70% a mais da inflação no intervalo. E o dinheiro seria protegido em 100% do valor nominal – ou seja, sem correção inflacionária – apenas no vencimento.
Entre 2023 e 2025, a inflação medida pelo IPCA foi de 10,7%, aproximadamente. Usando a participação mínima de 1,7 vez no cálculo, o ganho percentual bruto seria de 18,2% sobre o dinheiro investido (1,7 x 10,7%). Um investimento de R$ 10 mil viraria R$ 11.820.
Agora, vamos aplicar o imposto.
Nesse caso, ele funciona como uma escada, que começa com uma alíquota de 22,5% sobre o lucro para investimentos até 180 dias e termina em 15% para aplicações acima de 720 dias – que é justamente nosso caso. Então, basta aplicar 15% sobre o nosso lucro de R$ 1.820 – são R$ 273 de imposto.
No fim das contas, nosso montante final fica em R$ 11.547, o que significa um ganho percentual líquido de 15,5%.
À primeira vista, o COE cumpriu seu dever: entregou um ganho líquido de 15,5%, contra 10,7% do IPCA no intervalo. Mas tem um porém: o investidor poderia ter obtido um resultado muito melhor com uma aplicação pós-fixada, que rendesse 100% do CDI, ou mesmo indexada à inflação.
Vamos fazer uma simulação:
| Produto | Lucro bruto | IR (15% sobre o ganho) |
Lucro líquido | Alíquota efetiva |
| COE (1,70 × IPCA) |
R$ 11.820 | R$ 273 | R$ 11.547 | 15,5% |
| 100% do CDI (25,3% bruto) |
R$ 12.526 | R$ 379 | R$ 12.147 | 21,5% |
| Tesouro IPCA + 6% a.a. | R$ 12.446 | R$ 367 | R$ 12.033 | 20,3% |
Qualquer um poderia argumentar que o movimento do mercado é imprevisível e analisar o passado é fácil. Mas bastaria consultar a plataforma do Tesouro Direto para encontrar, nessa época, alternativas mais interessantes do que o COE – é com base nelas que traçamos os cenários hipotéticos acima.
Um simples produto ligado ao CDI, como o Tesouro Selic, rendeu algo em torno de 25% brutos entre março de 2023 e fevereiro de 2025. No ganho líquido, o rendimento seria de 21,5%. Ou seja: R$ 12.147 direto para o seu bolso.
Já um Tesouro IPCA+ que pagasse a inflação acrescida de um prêmio de 6%, por exemplo – patamar que historicamente ficou disponível em vários títulos de vencimento intermediário –, também teria um retorno superior ao do COE no período. Os mesmos R$ 10 mil investidos virariam R$ 12.033 após impostos.
Vale dizer: tudo isso que simulamos considera um cenário de IPCA em alta. Se o intervalo fosse marcado por uma deflação, o COE devolveria somente o valor inicial investido. O Tesouro IPCA+, na largada, já teria um ganho real (acima da inflação), enquanto um Tesouro Selic entregaria os dois dígitos de taxa Selic no intervalo.
E tem mais pedras no caminho do COE.
A compra de derivativos – como opções de compra ou venda de títulos de inflação – tem um custo que não está claro no COE. O nível de participação de 1,7 vez é resultado desses derivativos. Quanto maior o custo de comprar os instrumentos para montar o COE, mais cara fica a estrutura – e o investidor não tem como ver isso.
A documentação do COE cita que a distribuidora recebe uma remuneração de até 1,9% dos bancos emissores pela colocação do produto no mercado. Isso é pago de cara, no ato da emissão. Essa taxa não aparece como uma cobrança direta do cliente, mas tem impacto direto na participação dele no resultado. Quanto maior a taxa, menor o nível de participação do investidor no rendimento do produto.
E isso sem falar da liquidez quase nula do investimento, como já falamos antes, coisa que poderia ser facilmente obtida em um investimento direto em um título público.
Não bastasse tudo isso, como o dinheiro ficou parado por dois anos sem render nada, o investidor abriu mão do efeito dos juros compostos no intervalo – o que fez enorme diferença para o COE do nosso exemplo. A tal promessa de proteção com lucros alavancados, no fim das contas, saiu muito mais caro.